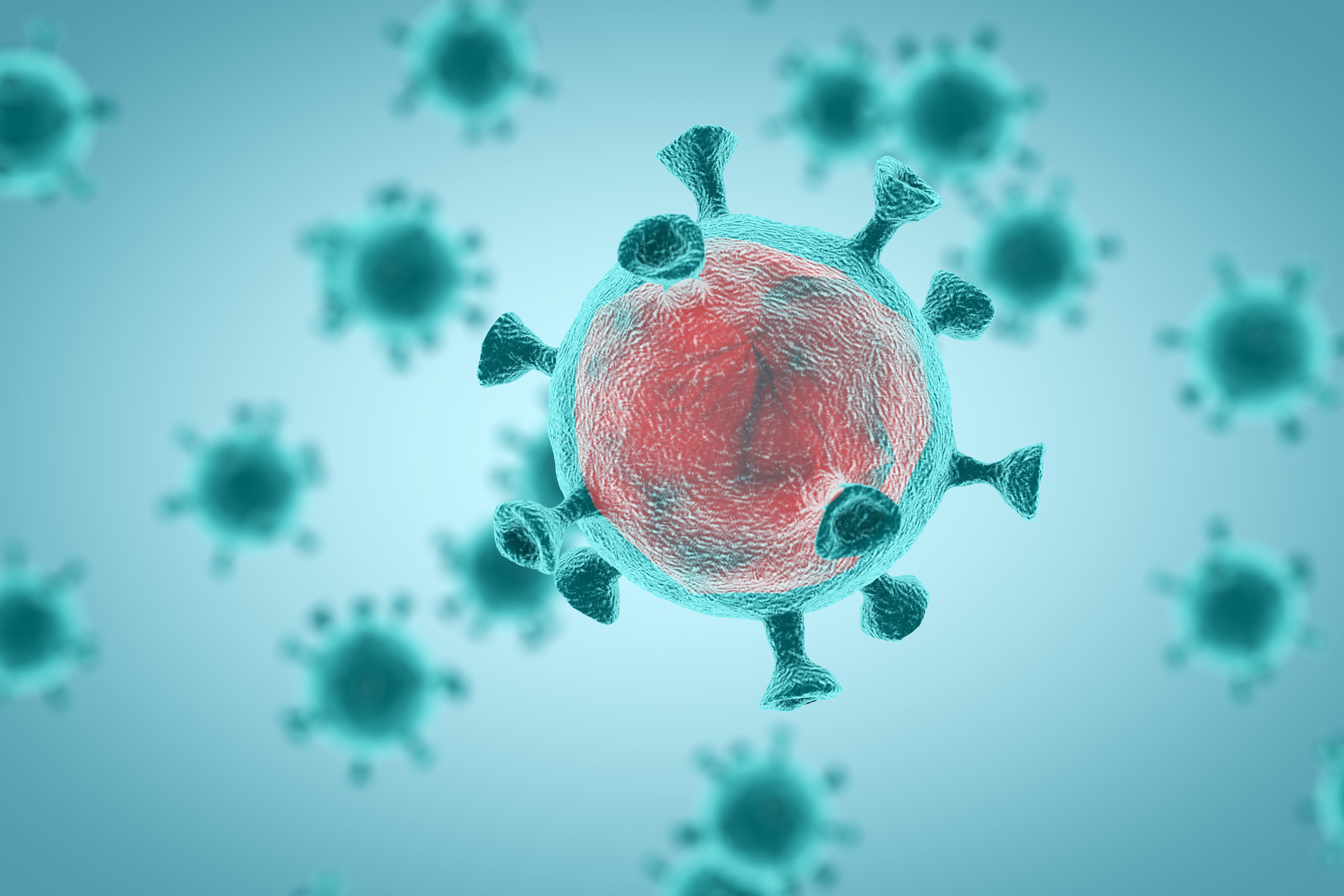Estudo com 6.000 pessoas mostra que os infectados geram uma reação imunológica adequada
O sangue de milhares de pessoas acaba de anunciar boas notícias em uma das frentes mais cruciais na guerra contra o novo coronavírus: a imunidade natural. Desde o começo da pandemia, uma das perguntas mais urgentes foi qual era a eficácia da imunidade adquirida por um indivíduo após superar a infecção e, sobretudo, quanto tempo ela dura. É uma pergunta angustiante, porque, para respondê-la, é preciso esperar, apesar da urgência pandêmica. O mesmo aconteceu com a SARS em 2002: no princípio, se duvidava de que houvesse imunidade duradoura. Hoje sabemos que quem passou pelo vírus continuava tendo anticorpos 12 anos depois.
Nos últimos dias foram publicados casos de algumas poucas pessoas reinfectadas pelo SARS-CoV-2, incluídas algumas que sofreram uma forma mais grave da doença na segunda vez. Os anticorpos são proteínas do sistema imunológico que se unem ao vírus e impedem que este infecte mais células. Vários estudos de meses atrás mostravam que os anticorpos decaem poucos meses depois da infecção em pessoas com a doença em forma leve. Sendo assim, quem superou a primeira infecção está protegido?
Segundo os dados de um dos maiores estudos feitos até agora sobre o assunto, o mais provável é que sim; e essa proteção mediada por anticorpos dura pelo menos sete meses.
“Nosso estudo demonstra que é possível gerar imunidade duradoura contra este vírus”, afirma Deepta Bhattacharya pesquisador do Centro de Câncer da Universidade do Arizona (EUA) e coautor do trabalho, que será publicado na revista Immunity. “Nas infecções moderadas que analisamos a resposta de anticorpos parece bastante convencional; os níveis destas proteínas sobem no princípio e depois caem, mas depois se estabilizam”, acrescenta. As reinfecções, observa, são casos “excepcionais”.
Quando o SARS-CoV-2 entra em nosso organismo, tem início uma complexa resposta do sistema imunológico que demora umas duas semanas para ser concluída e envolve milhões de células de todo o organismo. Algumas delas são sofisticadíssimas: são capazes de recordar para sempre um agente patogênico que tiverem conhecido e de desenvolver as armas moleculares necessárias para destrui-lo, incluindo diferentes tipos de anticorpos de grande potência.
O estudo do Arizona surge de uma campanha maciça de testes com participação de 30.000 pessoas. O trabalho se centrou nos dados de quase 6.000 dessas pessoas e analisou a produção de anticorpos neutralizantes em mais de 1.000.
A prevalência de infecções é baixa, então foram detectadas apenas 200 pessoas que tinham passado pela infecção e produzido anticorpos neutralizantes, explica Bhattacharya. O máximo que a equipe conseguiu retroceder no tempo para ver quanto duram os anticorpos são esses sete meses, pois a epidemia de coronavírus chegou relativamente tarde a esse Estado norte-americano. “Só conseguimos analisar seis pessoas que se infectaram entre cinco e sete meses atrás, mas temos muitas outras que se infectaram entre três e cinco meses atrás. Não temos uma bola de cristal para saber quanto duram os anticorpos, mas, com base no que sabemos de outros coronavírus, esperamos que a reação imunológica se mantenha durante pelo menos um ano, e provavelmente muito mais”, explica Bhattacharya.
A equipe dos EUA acredita que os dados preliminares que apontavam para uma rápida redução dos anticorpos se devem ao fato de que foi analisado um tipo de célula do plasma sanguíneo que é o primeiro a socorrer quando ocorre uma infecção, mas que tem vida curta. São células capazes de segregar anticorpos não muito específicos, como os IgM. Algum tempo depois, entra em cena um segundo tipo de células sanguíneas mais longevas, que vão aos centros germinais, espécies de quartéis-generais da imunidade, localizados nos gânglios e no baço, onde recebem antígenos do novo vírus. Estes lhes permitem identificar o agente patogênico com muito mais precisão e desenvolver anticorpos muito mais específicos, os famosos IgG.
No meio desta segunda onda de anticorpos, há uma tropa de elite voltada contra a proteína que diferencia o novo coronavírus de outros de sua classe: a espícula. Essa protuberância pontiaguda, que se destaca no envoltório de gordura do vírus, serve para se encaixar no receptor das células humanas e abri-las; uma vez feita a invasão, o vírus se apropriar do maquinário biológico da célula anfitriã e começar a se reproduzir desenfreadamente. Isto representa o início de uma infecção, com sintomas ou não. Numa minoria de casos, a entrada do vírus gera uma reação desproporcional do sistema imunológico, que pode acabar provocando a morte.
A equipe do Arizona analisou dois destes anticorpos capazes de se unirem a diferentes regiões da espícula e bloquear sua entrada nas células.
Esses anticorpos demonstraram no laboratório que têm o poder de frear a expansão do vírus de uma forma muito mais efetiva que os que atacam a proteína N (nucleocapsídeo), situada no interior do agente patogênico uma estratégia para proteger seu genoma e facilitar sua cópia após a entrada na célula.